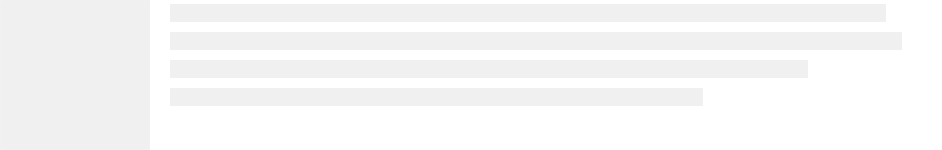Ações, atos e normas que firam a Lei Fundamental são nulos pleno jure e não geram direito algum a ninguém, pois não há direito adquirido contra a Constituição e isso desde a sua vigência (1988).
Em ocorrendo a hipótese, é preciso notar, não há o saneamento do vício pelo simples passar do tempo, pois a inconstitucionalidade é fenômeno imprescritível, ao contrário de argumentos usados em âmbito estadual e nacional para justificar velhas práticas ilegais. Por isso, deparando-se com qualquer ato, ação ou programa de governo ilegal, a própria administração pública deve, incontinenti, anulá-lo (Súmula 473/STF).
A legalidade constitui, assim, direito fundamental incorporado ao patrimônio dos cidadãos assegurada em cláusula constitucional pétrea que vincula o agir da Administração como dever-fim do qual não pode jamais se desgarrar.
Problema assaz frequente é quando a ilegalidade acomete práticas financeiras dos entes federados. Estes, fazem de tudo para não abrir mão dos recursos indevidamente arrecadados ou por arrecadar e chegam defender o insustentável como visto no caso do aumento IPI dos automóveis importados que ignorou o princípio da noventena (vigência após 90 dias), por parte do Ministério da Fazenda, cujo ministro, defendeu sua cobrança imediata.
Em âmbito local – parece que falhou a assessoria jurídica do governo -, temos o exemplo da lei que procura taxar com ICMS produtos que já recolherem esse tributo quando adquiridos no Estado produtor ou comercializador, que afigura-se flagrantemente inconstitucional por ferir a Constituição ao sancionar a bi-tributação do mesmo fato gerador, como já decidido pelo STF sobre leis idênticas de outros Estados da Federação.
Não será com “protocolos” celebrados pelos Secretários de Fazendas de Estados-membros na esfera do CONFAZ, a exemplo do Protocolo 21, que se validará a cobrança de ICMS no destino, a título de complementação e mesmo em operações outras que não sejam compras pela internet e o interessado não seja contribuinte do imposto, como já decidido pelo nosso Tribunal de Justiça em casos assemelhados.
No ponto, as ações da OAB nacional combatem a miopia governamental que ignora ser a ação violadora de um princípio constitucional muito mais grave do que a transgressora de uma norma legal qualquer, pois o desrespeito implica ofensa irradiada a todo o sistema de comandos ao qual os preceitos jurídicos devem estar perfeitamente colmatados.
Constitui, assim, heresia suprema que clama imediata repulsa da cidadania, do Ministério Público e do Judiciário.
Segundo a doutrina constitucional mais abalizada, de origem germânica, o princípio da legalidade impõe à lei sujeitar-se ao “estado de Constituição como um todo”, o que envolve tanto o princípio da legalidade propriamente dito como os demais princípios e regras nela contemplados.
Estou convencido, já o disse, que embora não expressamente previsto, os cidadãos brasileiros gozam de um direito fundamental (implícito) decorrente do nosso sistema político-jurídico: “o direito ao bom governo”, que clama, inclusive, por uma maior participação do MP, TC’s e Judiciário no trabalho de concretização.
A verdade, é que inúmeras leis apresentam uma “falsa aparência de legalidade” e por isso continuam a viger: umas, por não terem sido devidamente confrontadas com a Constituição Federal; outras, por afigurarem-se constitucional na sua origem, mas supervenientemente inconstitucional nos seus fins, verbis:
“(…) uma lei que se utilize de meios oferecidos e admitidos pela Constituição, mas para alcançar fim diverso daquele para o qual a Constituição predispôs tais meios, é inconstitucional, por violar um dos seus elementos de validade, ou seja, o fim”. (André Ramos Tavares, Direito Constitucional Concretizado, vol. 2, Editora Método, São Paulo, 2009, p. 99).
Assim, pode a lei não ser constitucional desde a origem por apartar-se da própria concepção da legalidade (vício material) ou por desatender comando disciplinador ou limitador do processo legislativo (vício de forma), como exemplificado nas que vierem a dispor sobre criação de cargos, funções, aumentos e vantagens pecuniárias em período eleitoral vedado, ou que criem despesas não orçadas que ultrapassem os limites da lei de responsabilidade fiscal, ou ainda que tenham tramitado sem a devida observância do processo legislativo, etc.
No primeiro caso, verifica-se a inconstitucionalidade material que fulmina o conteúdo da lei e no outro, há óbice legal ao processo legislativo para aprovar preceitos que de alguma forma representem uma “benesse” ou “vantagem” a indivíduos ou categoria de indivíduos naquele período e que possam de alguma forma atentar contra a lisura, o equilíbrio e a regularidade dos pleitos em desfavor dos concorrentes ao cargo executivo sob disputa e ainda o equilíbrio financeiro-fiscal do ente político federado.
A proibição visa proteger a União, Estados e Municípios contra eventual tentação de irresponsabilidade financeira por parte dos seus condutores e de obtenção de vantagem eleitoral ilícita, tão comum em décadas passadas quando os controles eram frouxos ou inexistentes, o que posso afirmar com conhecimento de causa, pois fui Promotor eleitoral de uma capital por quase cinco anos, antes da vigência da atual Constituição.
Estando vinculado ao cânone da legalidade e buscando sempre a efetiva supremacia das Constituições Federal e Estadual e legislação que as complementam, cabe ao Chefe do Executivo Estadual e/ou ao Ministério Público adotar(em) soluções que visem reparar ilegalidades configuradoras de situações de desvalor constitucional, conforme o caso, nos termos dos arts. 101, I, “a” e 103, V, e 125, § 2º da CF e arts. 86, XIX e 105, 1 e 3, da CE.
Mister destacar, ainda, que qualquer Juiz de Direito estadual, federal ou do trabalho em sede de “controle difuso ou concreto”, deparando-se nos autos com inconstitucionalidade de ato ou lei, em face das Constituições Federal ou Estadual, pode (e deve), incidentalmente, declará-la, com efeito apenas inter-partes e sem operar coisa julgada material.
É sintomático, no Brasil, que o principal “cliente” da Justiça seja o poder público, o qual, como réu e em escala impressionante, entope os Juízos e Tribunais de processos onde os cidadãos buscam a afirmação ou a reparação de seus direitos frente a ações e omissões de sua pauta administrativa.
O Estado Constitucional de Direito para fazer jus a esse nome precisa fortalecer as instituições sobre as quais recaem o dever de concretização da legalidade, a saber, o Ministério Público, a quem cabe “defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis” (CF., art. 127; CE., art. 125) e o Poder Judiciário, que tem o monopólio da prestação de tutela judiciária (CF., art. 5º, XXXV), erigido que foi, em poder-garante da sociedade civilizada.
Essas duas instituições são as legítimas depositárias do direito supremo da sociedade à realização da Justiça com base nos valores ético-democráticos e não em interesses de Estado, pois nem sempre interesses estatais são genuinamente públicos e realizam o bem comum respeitando os direitos individuais dos cidadãos.
O que parece imprescindível é que todos se convençam de que o nosso patrimônio maior, repito, é a legalidade, o culto à Constituição e o respeito às instituições democráticas. Esse é o credo maior da Justiça, como bem nos ensinou o insuperável Rui Barbosa.
Tomando por empréstimo as belas palavras do eminente Min. Marco Aurélio Mello do STF, podemos, ex vi da matéria posta, com ele concluir:
“Reafirme-se a crença no Direito; reafirme-se o entendimento de que, sendo uma ciência, o meio justifica o fim, mas não este aquele, advindo à almejada segurança jurídica a observância do ordenamento normativo”.