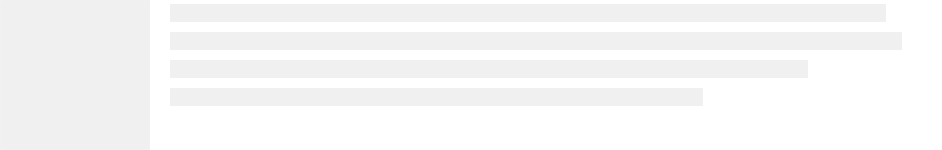Naquele 31 março de 1964, o Brasil foi surpreendido com uma revolução militar que derrubou o presidente João Goulart, sob justificativa de impedir que o comunismo o dominasse, conforme explicaria aos estudantes nos dias seguintes o diretor do Colégio Estadual de São José de Piranhas, Professor Luis Alberto de Paiva, de saudosa memória.
O mestre, homem de letras, idealista da educação, católico fervoroso e cultor da obra civilizatória do Padre Ibiapina, descrevia a tragédia evitada com um cenário horroroso que a todos assustou e colocou a favor dos militares.
Sempre tive grande interesse por história, literatura, política e direito, tendo sido um leitor voraz de tudo que consegui por as mãos naquele interior pouco afeito às letras e piolho de julgamentos do tribunal do júri onde apreciava as falas da acusação e da defesa.
Aos 15 anos, recebi, feliz, meu primeiro pagamento por crônicas escritas e lidas num programa radiofônico chamado, salvo engano, “Crônica do Meio Dia”, da Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras.
Em 15/03/1967 um Congresso Nacional pouco representativo e subjugado, promulgou uma nova Constituição encomendada pelos militares.
Embora ainda consagrasse – como a de 1946 – a imunidade material dos parlamentares (art. 34), também previu a esdrúxula figura de abuso dos direitos individuais e políticos como causa da suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 02 a 10 anos (art. 151 e § único), dando ensejo ao que a doutrina norte-americana rotula de constitution evil.
Depois, veio o sombrio ano de 1968, quando já estava totalmente claro que vivíamos sob uma ditadura militar e, por conta disso, abracei com idealismo e entusiasmo a campanha do então candidato a prefeito pelo MDB – Movimento Democrático Brasileiro, Luiz Gonzaga de Oliveira.
Lembro-me da visita à cidade de comitiva do MDB capitaneada pelos deputados federais Humberto Lucena e Marcondes Gadelha, entre outros, que participaram de comício em favor do candidato de oposição do MDB.
Em cima da carroceria de um caminhão estacionado em frente ao mercado, os saudei, em nome dos estudantes, com vibrante discurso que precedeu os deles próprios, numa segunda-feira, dia de feira e ebulição popular. O resultado, por todos conhecido, é que vencemos àquelas eleições derrotando o candidato oficial da Arena. Foi um grande feito.
Após as eleições, decidi ir para Brasília, com incentivo de meu pai que já a conhecera, onde estudaria, pois lá tinha parentes. Lembro-me de suas luzes ao chegar naquela noite de dezembro de 1968 e da sensação de fascínio com a cidade desconhecida.
Dias depois, minha meia-irmã Alayde levou-me para conhecer e fazer fotos na Praça dos Três Poderes. (Uma delas ilustra este artigo).
Fiquei maravilhado com os grandes espaços e a arquitetura da esplanada dos Ministérios, dos Palácios do Planalto, Alvorada, Itamaraty, Justiça (STF) e do conjunto do Congresso Nacional (câmara e senado), causando-me forte impressão as belas frases do presidente Juscelino Kubistchek sobre sua construção-inauguração grafadas em negrito no mármore branco e frio do monumento erguido diante do Palácio do Planalto. Era tudo muito mais bonito do que imaginara, faltava, no entanto, o essencial: liberdade!
Para os ideólogos do militarismo brasileiro abrigados na ESG-Escola Superior de Guerra, em 64, ocorreu aquela revolução sonhada pelo coronel Aureliano Buendía, personagem do clássico Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marquez: a revolução acabara com todas as revoluções.
Estava em curso a construção do grande Leviatã de que nos falou Hobbes e que só seria enfraquecido com o presidente Geisel (74-79) e sua abertura lenta, gradual e segura, que suspendeu a censura à imprensa, restaurou o habeas corpus e afastou o AI-5, sendo finalmente nocauteado em 1988 com uma nova Constituição democrática.
O ano de 1968 fora trágico, de grandes protestos populares, mortes de estudantes e acabara junto com ele – para muitos nunca acabou, a propósito, há um livro-referência de Zuenir Ventura com esse título – o sonho dos democratas de retorno do país à normalidade político-democrática com o presidente Costa e Silva (67-69) decretando, em 13 de dezembro, o famigerado AI-5 – Ato Institucional nº 05 que fechou o Congresso, suspendeu os direitos e garantias individuais e cassou o mandato do deputado Márcio Moreira Alves por discurso proferido meses antes pedindo o boicote da população às celebrações do dia da independência.
Fechava-se, assim, qualquer possibilidade de oposição democrática, o que levou desespero à juventude esclarecida e engajada politicamente, a qual, sem chance alguma, ao meu sentir, descambou para a luta armada contra o regime que dera início à violenta repressão dos movimentos sociais e políticos.
Com o impedimento do presidente Costa e Silva, em 1969, que sofrera um derrame ou AVC (o episódio é nebuloso), o grupo de militares que governava foi substituído por outro que conduziu o país para uma ditadura ainda mais feroz, promovendo uma onda de cassação de parlamentares e juízes (inclusive do STF) e a revogação dos direitos fundamentais, com base na EC nº 01/69 (outorgada pela Junta Militar e na verdade outra Constituição), que replicou no artigo 154, § único, as regras do referido art. 151, § único da CF/67 e também baixou uma nova Lei de Segurança Nacional que consagrava a então em voga “doutrina de segurança nacional” formulada pela ESG.
Entretanto, os diplomas legais mais usados na repressão política aos opositores eram a Lei de Segurança Nacional (Dec-Lei nº 898/69), o Dec-Lei nº 477/69, o terror das universidades (definia crimes de professores, alunos e funcionários) e o temível AI-5 para a prática dos atos mais ignóbeis que não eram sequer passíveis de avaliação judicial.
Matriculado no principal colégio público da capital – CEMEB, mais conhecido como Elefante Branco (na época ainda não havia a proliferação do ensino particular que hoje se observa), mantive contato com estudantes envolvidos na contestação ao regime, os quais procuravam influenciar-me com pregação ideológica e livros proibidos para leitura reservada, esperando que apoiasse a “luta democrática”.
Embora compreendendo o momento histórico, estava mais preocupado em não decepcionar a família, acompanhar o curso – que se revelou difícil dado a fragilidade do ensino anterior – e passar de ano, o que a duras penas consegui, principalmente por causa de matérias que detestava, como matemática, física e química, verdadeiros tormentos naqueles dias.
1970 chegou e com ele a mesma batalha para obter êxito nos estudos. Alguém sugeriu que para livrar-me do serviço militar poderia ir estudar na Universidade Patrice Lumumba de Amizade dos Povos, em Moscou, onde tudo era de graça e ainda receberia uma ajuda em dinheiro, proposta que rechacei por ter fundadas dúvidas sobre a utilidade da educação superior lá oferecida.
Mas aí, veio a Copa do Mundo de 1970 e sua conquista foi um poderoso bálsamo, uma fuga, uma anestesia coletiva naqueles tempos de arbítrio, mas também do chamado milagre econômico (69-73) quando o país cresceu a taxas superiores a 10% ao ano, erguendo grandes obras às custas dos abundantes recursos externos (empréstimos) que na década seguinte levaria a crises no balanço de pagamentos.
Apaixonado por futebol e pela seleção, ainda lembrava-se das vitórias nas Copas de 58 e 62 que acompanhei pelo rádio, o pipocar de fogos de artifício e o júbilo da população da cidade natal.
Agora, ansioso e contrito em frente à televisão como se fosse um altar, em casa da minha irmã na 410 Sul, esperava a estréia da seleção contra a Thecoslováquia que surpreendeu fazendo o primeiro gol que trouxe dúvidas e marejou-me os olhos.
A tristeza, no entanto, durou pouco, logo sobreveio o empate e os mágicos gols seguintes que culminaram dias depois com a conquista do mundial pela melhor seleção que já vi jogar (assisti um jogo preparatório no Maracanã, em 69).
Os militares, com Medici (69-73) na presidência, faturaram o momento ufanista do povo sob o seguinte slogan: “Brasil: ame-o ou deixe-o”.
Após meados de 1970 completei 18 anos, submeti-me ao alistamento militar e fiquei esperando o recrutamento. Para não servir à Pátria apresentei justificativas de necessitar concluir o curso médio e não enxergar bem, as quais não foram aceitas e, como media 1,80cm de altura enquadrava-me no perfil para integrar o Batalhão de Guarda Presidencial – BGP e fui convocado.
E lá estava eu, após perder a longa cabeleira então em moda, naqueles meses de pesados treinamentos de guerra, marchas intermináveis e aulas sobre os chamados “terroristas”, cujas fotos eram exibidas junto as histórias pessoais e das organizações clandestinas que integravam: VPR, PCB, MR-8, VAR-PALMARES, ALN, MOLIPO, POLOP, COLIMA, etc.
O incrível, para nós hoje, é que entre os guerrilheiros havia uma chamada Dilma que militou nessas duas últimas organizações e viria a ser a atual presidente da república Dilma Rousseff, de quem, estou certo, devemos esperar um grande governo.
Ouvia tudo com fingido interesse imaginando uma forma de afastar-me daquela rotina desinteressante e pesada, seguida da prestação de “guarda” no quartel e, depois, nos Palácios do Planalto e Alvorada, durante o dia e noite, com um fuzil automático FAO carregado nas mãos.
Nesse interregno, tive simplesmente que abandonar os estudos e afastar-me dos sonhadores, pois não dava para conciliar as duas atividades, as amizades e os sonhos democráticos.
De repente, surgiu uma oportunidade que achei ótima: um teste para motorista militar. Aprovado, tirei a CNH e fui lotado no QG do Forte Apache, onde trabalhei com um general de divisão (Celso de Azevedo Daltro Santos) e conheci (de vista) muitos outros, entre os quais, Sylvio Frota, Ednardo Ávila Mello (ambos depois demitidos por Geisel), Hugo Abreu, que dizimou a guerrilha do Araguaia e João Figueiredo.
Na esplanada dos ministérios, mais exatamente no do Exército, cheguei a ouvir gemidos de presos políticos em dependências camufladas do DOI-CODI – Centro de Operações de Defesa Interna e isso causou-me tristeza e repulsa, mas, na ocasião, contava os dias para “dar baixa”.
O mundo, leitores, naqueles anos de chumbo das décadas de 60 e 70, pertencia aos falcões da guerra fria, das guerras bélicas regionais do sudeste asiático, áfrica, oriente médio e das ditaduras espraiadas pelo cone sul (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, pós Allende). Cuba, comunista e isolada, de Fidel e “Che”, brilhava como a jóia da Coroa sustentada pelos rubros fartos da União Soviética e era modelo para esquerda.
A contra-cultura tentava confrontar o establishment com o movimento hippie. Em 69, entre 15 e 18/08/69, ocorrera num sítio próximo a Nova York, o mega-festival de Woodstock, anunciado como “uma exposição aquariana de paz e música” e que constituiu histórico marco de protesto-aspiração contra a ordem estabelecida por parte de uma geração cansada de guerras, mortes e violência.
A “era”, como retratado na canção-símbolo do musical Hair estava sob regência de “aquário” com a promessa de “amor, harmonia e compreensão” e pedia: “deixe a luz do sol entrar”.
Muitos dos que curtiram o charme e o som da bossa nova, e sonharam com um Brasil plural, tolerante, próspero e democrático pós-JK, jamais voltariam a ouvir os Beatles e a alegre música descompromissada (politicamente) da Jovem Guarda. Jamais veriam a luz do sol entrar…
A eles todos, dedico as minhas preces, neste radiante 31 de março de democracia, imperfeita, é verdade, como toda democracia, mas verdadeiro valor supremo da cidadania a ser aperfeiçoado dia-a-dia por todos nós.
Algum tempo depois, deixei Brasília jogando ao vento os seguintes versos:
Adeus…, aos meus, aos teus, aos nossos sonhos destroçados,
aos que não vieram se despedir, mas deixaram,
restos de utopia plantados em meu peito…